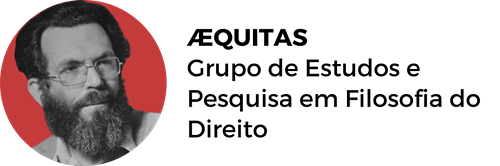Nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2021, o I Seminário promovido pelo ÆQUITAS, com o apoio da Faculdade de Direito (FaDir) da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, recebeu cerca de duzentos participantes por dia, prestigiando os quatro painéis sobre Metodologia e Teoria do Direito. Todos os painéis foram transmitidos no YouTube e podem ser acessados na playlist do nosso canal institucional.

No dia 23, a Professora Dra. Andrea Faggion deu início às apresentações do Seminário com o Painel I, Tomando notas de pesquisa, em que buscou demonstrar por que vale a pena tomar notas e desenvolver a escrita. A Professora explorou o fato de que, por vezes, podemos pensar que a tomada de notas é completamente irrelevante ou uma grandessíssima perda de tempo, sobretudo ao se considerar como nomes da filosofia clássica, ou aqueles que ficaram famosos por seus provérbios e através da palavra não escrita, por exemplo, não tinham esse tipo de hábito - e sequer poderiam tê-lo em épocas que escrever requeria, no mínimo, um enorme tablete de mármore e um imenso dispêndio de tempo e força de trabalho. A problemática enfrentada, assim, é: por que eu deveria tomar notas, se alguém como Sócrates sequer escreveu na vida?
É claro que, em primeiro lugar, você e eu não somos Sócrates. Além do mais, esses grandes nomes da filosofia, em sua maioria, não tinham a seu dispor um conhecimento acumulado superior a dois mil anos. Eles possuíam uma informação limitada, poucos predecessores nos quais se apoiar e uma restrição geográfica de seus interlocutores que tornava esse tipo de hábito não tão necessário. Estar em uma realidade bastante diferente impõe, também, uma forma diferente de lidar com a informação que se encontra à nossa disposição.
Talvez um dos principais motivos pelos quais deveríamos rejeitar a restrição no modo como Sócrates e outros filosofavam e, desta forma, levar a arte de tomar notas a sério, como ressaltado pela Prof. Andrea, é que a escrita não só auxilia nossa memória de longo prazo, como ela é o nosso próprio pensamento e envolve um processo que nos faz pôr as ideias à prova, torná-las mais complexas e mais coerentes com nossas outras crenças.
Bem sabemos como tudo dentro da nossa cabeça parece excelente. Quem nunca passou vergonha verbalizando alguma coisa que lhe parecia certa e, quando teve de formular uma frase que fosse, pagou o maior mico? É aí, entre outros lugares, que as notas se tornam tão pertinentes: nelas armazenamos informações, desenvolvemos nossas ideias e nos tornamos mais capazes de perceber conexões entre diferentes assuntos. Nos tornamos editores de nossos próprios escritos, dialogamos com nossas ideias passadas e, no processo, acabamos sendo mais criativos ao darmos mais atenção a conexões interessantes entre diferentes notas.
Depois da fala da professora Andrea Faggion, o Professor Horacio Neiva fechou a etapa das apresentações da primeira noite com um relato pessoal, abordando a angústia pela qual todo pesquisador inevitavelmente passa durante o processo de escrita e como o hábito de tomar notas foi essencial para superar a pressão de redigir a tese de doutorado. Partindo do pressuposto de como nosso pensamento não é linear, o Professor Horacio sugeriu por que muitas vezes nos parece tão assustador executar a tarefa de construir um trabalho acadêmico linearmente e, inevitavelmente, dar de cara com a folha em branco do Microsoft Word: se não pensamos do ponto A para o ponto Z, como dar início ao nosso trabalho de redação, quando tudo que temos até o momento são, por exemplo, os pontos H, P e D?
A adoção do hábito de tomar notas de pesquisa publicáveis, que carregam ideias e que possibilitam a conexão com outras notas, mostra mais uma de suas vantajosas funções neste momento. Se já temos uma porção de notas de pesquisa que conectam as várias ideias entre esses pontos não lineares, então parece que resta apenas o esforço de determinar a ordem na qual o conteúdo destas notas vai aparecer em um texto. Não há, em outras palavras, o “pânico da folha em branco”, nem o constante sentimento de improdutividade, mesmo porque o trabalho de passar as notas para o texto propriamente dito acaba quase sendo um trabalho de mera edição, etapa em que o esforço se resume a selecionar o que já temos, nos quais as conexões entre as ideias já se encontram estabelecidas. Isso acontece porque, durante a tomada de notas, construímos gradualmente a visão do todo, evitando a ansiedade de se querer desenvolver e articular as ideias de maneira linear a partir de uma folha em branco.
Quando as exposições terminaram, ambos os Professores estiveram conosco por mais alguns instantes para discutir questões referentes a aplicativos e softwares, gratuitos e pagos, que podem auxiliar no momento de armazenar e operacionalizar nossas notas eficientemente, a fim tornar o processo de busca muito mais simples que a procura manual pelas informações. Ao final do texto, listamos alguns materiais sugeridos pelos Professores e demais participantes, bem como o link para cada um dos programas mencionados.
No dia seguinte, os Mestres Rafael Giorgio Dalla Barba e William Galle Dietrich apresentaram o Painel II sobre Introdução à metodologia das Ciências Jurídicas. Rafael abriu a noite enfatizando como a ideia de uma única “Ciência Jurídica” parece ser de difícil sustentação, fazendo muito mais sentido falar em “Ciências Jurídicas”, no plural, aí incluindo áreas como a Filosofia do Direito, a Dogmática Jurídica, a Sociologia Jurídica, a Psicología Jurídica, etc. Seguindo esta linha de raciocínio, Rafael procurou apresentar um panorama geral das Ciências Jurídicas, sem olvidar de explicar algumas questões semânticas e terminológicas que, por vezes, passam batido, a saber: o significado de “metodologia das Ciências Jurídicas” quando entendida como (i) “metodologia da pesquisa jurídica”, como (ii) “metodologia das ciências jurídicas” e como (iii) “metodologia jurídica” em sentido estrito.
A metodologia das Ciências Jurídicas, quando tomada no sentido de “metodologia da pesquisa jurídica”, pode significar tanto a pesquisa realizada por acadêmicos e doutrinadores quanto por operadores do direito (como juízes e advogados). No primeiro caso, o interesse do pesquisador é a busca pelo conhecimento, pela coerência lógica e pelo uso de argumentos racionais; no segundo, o operador busca a vitória ou justiça, e redige suas peças de forma persuasiva e fazendo uso, por vezes, de argumentos emocionais.
Já quando tomada estritamente como metodologia das Ciências Jurídicas, seu significado expressa o conjunto de regras envolvidas no processo de desenvolvimento de uma pesquisa em Direito, que podem ser diretrizes jurídico-científicas (primazia da dúvida, suspensão de juízos pessoais, não-seletividade do material consultado, formulação de hipóteses, etc.) ou técnicas com relação à forma de redação (regras ABNT e demais regulamentos), coleta de informações (métodos relativos ao armazenamento e obtenção de dados, por exemplo), e mesmo meios de enfrentamento e acesso aos problemas que a pesquisa busca responder (formas de abordagem como experimentos mentais ou máximas convencionais).
Por fim, quando entendida como “metodologia jurídica” em sentido estrito, estamos falando sobre métodos para a aplicação do Direito em casos concretos. Podemos ainda diferenciar essa última da “Hermenêutica Jurídica”, dedicada a nossa compreensão dos materiais jurídicos e da “Metódica Jurídica”, que envolve métodos de interpretação e métodos de construção dos materiais jurídicos.
Em seguida, William Galle Dietrich buscou focar na metodologia da Dogmática Jurídica com uma abordagem diferente, qual seja, a partir de seus problemas. Como Rafael havia dito anteriormente, agora William complementa: a metodologia de uma área é um processo para acessar e tentar resolver um problema que justifica a própria razão de ser dessa área. Precisamos, portanto, saber quais os problemas que a Dogmática Jurídica busca enfrentar para estabelecer uma metodologia apropriada a respondê-lo.
Para ilustrar seu ponto, William reconstrói a ideia de Dogmática como uma atividade inicialmente desenvolvida por teólogos em relação aos textos bíblicos, na intenção de explicá-los de forma científica, ou ao menos lógica, e justificadamente, dando origem aos chamados dogmas. Em certa medida, a Dogmática tem essa herança de servir para justificar ou defender o texto que ela busca explicar - um dos motivos pelos quais, aliás, ela é tão criticada como servindo ao status quo.
Lembremos que a Dogmática, assim como outras Ciências Jurídicas, possui problemas que se dispõe a resolver, ainda que estes problemas não sejam acessados da mesma forma por todos aqueles normalmente vistos como fazendo Dogmática Jurídica. Neste caso, poderíamos citar problemas comuns como as incertezas conceituais e a deficiência ou insuficiência da linguagem e do texto das normas jurídicas, além de muitos outros. Por outro lado, parece controverso afirmar que assuntos como a desigualdade social originada ou aprofundada pelo Direito ou questões de cunho político são questões de Dogmática Jurídica propriamente, ainda que sejam claramente problemas mais relevantes em um sentido prático. Estes dois últimos problemas, em outro sentido, parecem poder ser mais adequadamente acessados em outras abordagens - como na Filosofia e na Sociologia do Direito, por exemplo - ou em propostas interdisciplinares.
Um ponto bem ressaltado na fala de William é a importância teórica de se conhecer o escopo da Dogmática Jurídica para que se faça Dogmática Jurídica adequadamente. Esta se destina principalmente aos operadores do Direito, mas também pode ser de enorme valia para acadêmicos. Uma certa incompreensão desse escopo e de seus destinatários, conforme entende William, vem causando alguns ataques parcialmente indevidos à Dogmática Jurídica. Isto não quer dizer, é claro, uma desqualificação sumária de qualquer crítica à dogmática jurídica, mas apenas sugere a ideia menos controversa de que parte dessas críticas talvez assumam uma função demasiadamente forte e desadequada às capacidades da dogmática jurídica. Dito de outra forma, poderíamos perguntar se o papel da dogmática jurídica realmente deveria ser inflado para algo que ela sequer teria o condão de cumprir desde o início. Ainda que não desenvolva uma visão completa sobre a Dogmática e seu ponto, William sugeriu a atribuição de um papel mais modesto a ela, como uma área da ciência jurídica preocupada em informar e esclarecer conceitos jurídicos e garantir a estabilidade do ordenamento jurídico frente a possíveis insuficiências do direito positivo.
Ao menos na visão de nosso painelista, vários problemas da Dogmática se devem, ao menos parcialmente, ao fato de que é comum enxergar a Dogmática sem se ter uma ideia adequada, justamente, de sua razão de ser, isto é, de que ela está aí para a resolução de uma classe específica de problemas. Pior ainda, por vezes sequer se toma consciência da existência de um problema. No fim das contas, quando isso passa despercebido, não há, realmente, qualquer Dogmática, vez que, como pode ser dito em outras palavras, não há Dogmática sem problema.
Bom, não há pesquisa e não há metodologia sem sua razão de ser, isto é, sem que elas sirvam para algum propósito. A apresentação de Rafael Giorgio Dalla Barba e William Galle Dietrich é esclarecedora em muitos sentidos, mas talvez o principal deles é fazer com que estejamos mais conscientes, ao ler e até mesmo ao escrever nossos próprios textos, de encontrar ou deixar evidente qual o problema que estamos tentando resolver, como se procura resolvê-lo e por qual razão. Entender, optar ou formular a metodologia a partir daí se torna muito mais simples ou, no mínimo, um ato mais racional.
Em 25 de agosto, no Painel III, As metodologias da teoria do direito, foi a vez dos Professores Luciana Silva Reis e Guilherme de Almeida - e o recém Doutor (e, como carinhosamente chamamos, Professor) Valdenor Monteiro Brito Júnior, que, aliás, realizou a defesa de sua tese apenas horas antes de estar conosco no evento - discutirem três das várias abordagens possíveis à teoria do direito. A Prof.ª Luciana deu início a mais um dia de seminário abordando a teoria interpretativista de Ronald Dworkin de uma forma bastante diversa e inspirada: partiu de David Foster Wallace, em seu famoso discurso This is water, para lembrar a todos nós como, em ambientes de excelência acadêmica, às vezes corremos o risco de seguir com nossa “configuração padrão” e intelectualizar demais questões importantes, esquecendo justamente daquilo que está em nossa frente ou, em outras palavras, tal qual os jovens peixes da fábula contada por Wallace, que tudo isto ao redor deles era água. Partindo desta ideia, a Prof.ª Luciana procurou se valer de um interessante recurso à obra de Judith Shklar, apontando para o que poderia ser considerada a “configuração padrão” com a qual seguimos no âmbito jurídico e, em especial, em partes da acadêmica: o “legalismo enquanto ideologia”, que acaba por isolar o direito de departamentos da moralidade, de formas possivelmente pouco desejáveis. A relação entre esses insights e a abordagem de Dworkin à filosofia do direito começa a ficar mais evidente quando começamos a nos perguntar se grande parte da teoria do direito não teria enveredado para discussões desnecessariamente escolásticas, como o próprio Dworkin sugere em seu texto Thirty Years On, deixando de lado o fato mais importante e, quem sabe, teórica e praticamente interessante, de como o direito é uma prática essencialmente moralizada e marcada pela controvérsia, e de como a própria teoria do direito não deveria, nem conseguiria fugir desse debate moral.
Entre os vários aspectos a serem ressaltadas na fala, parece-nos que a vida de David Foster Wallace, sua obra e sua morte precoce fizeram tema de uma lição importante: percebendo que isto é água, isto é, que o que é prática e teoricamente importante está ao nosso redor imediato, sem que seja necessário recorrer a uma sofisticação acadêmica com tendências a uma intelectualização que compromete a própria formação, talvez sejamos capazes de notar e valorizar o que está ocorrendo bem na nossa frente, coisas essenciais e que merecem nossa atenção enquanto pesquisadores, juristas ou participantes de uma prática social em geral.
Foi certamente uma fala difícil de superar, mas os demais painelistas estavam à altura. Em seguida, o Professor Guilherme de Almeida se preocupou em nos oferecer uma defesa da filosofia do direito experimental e de expor bons motivos para se queimar a poltrona na qual o filósofo costuma confortavelmente construir suas teorias e, em complemento a isto, fazer experimentos dentro da teoria do direito. Mais especificamente, ainda que retoricamente reivindique a morte da "filosofia de poltrona", a abordagem filosófica experimental aplicada ao direito não quer exatamente acabar com a teoria do direito tradicional, mas justamente aperfeiçoá-la ao fornecer-lhe um melhor entendimento sobre as intuições que as pessoas supostamente compartilham em uma certa comunidade e que os filósofos do direito normalmente tomam como dados pré-teóricos em suas investigações. É dizer, se concordamos com HLA Hart quando este dizia que a análise do direito deveria se basear em “uma consciência afiada das palavras para aguçar a nossa percepção dos fenômenos”, então parece que é importante investigar o que as pessoas que participam de determinada prática jurídica efetivamente pensam e quais são suas intuições sobre conceitos como “razoabilidade” ou “ideal” a fim de construirmos uma teoria filosófica mais acurada do direito. Isso não significa que devemos abandonar completamente a poltrona da análise filosófica tradicional, é claro: o filósofo experimental ainda é, primariamente, um filósofo. O ponto central é que a abordagem experimental espera nos convencer ser de extrema valia para que possamos pensar de maneira mais empiricamente ancorada quando, de volta à poltrona, estivermos fazendo análise conceitual, desta vez de forma um pouco mais conectada com as intuições que as pessoas de determinada comunidade jurídica realmente possuem acerca do direito.
A última fala do painel ficou por conta do Prof. Valdenor Monteiro Brito Júnior, que se encarregou de expor as bases do naturalismo metodológico e da chamada “teoria naturalizada do direito”, famosamente proposta por Brian Leiter, bem como de sugerir uma defesa mais fraca de algumas de suas teses. A primeira parte da apresentação procurou conceituar o naturalismo metodológico, o qual, ainda que comporte visões mais radicais e moderadas, pode ser descrito como uma visão metafilosófica que sustenta, grosso modo, que a filosofia lida principalmente com verdades sintéticas e que existe uma continuidade entre a empreitada filosófica e a empreitada científica, as duas só se diferenciando quanto ao seu grau de abstração. Em seguida, Valdenor procurou contextualizar a Teoria Naturalizada do Direito (ou “TND”, daqui em diante) defendida por Brian Leiter como uma instância do naturalismo metodológico dentro da teoria do direito. De forma um tanto breve, poderíamos dizer que a TND parte de dois pontos centrais, isto é, a reconstrução do realismo jurídico americano a partir de uma naturalização da teoria da decisão judicial e crença na falha epistêmica da análise conceitual e do recurso às intuições, propondo uma naturalização da teoria geral do direito. Também foi explicado como a TND tem aplicações para quatro grandes campos da teoria do direito: (i) a teoria da decisão; (ii) a teoria da validade jurídica; (iii) a etnografia jurídica e (iv) a epistemologia do direito probatório.
Depois de detalhar sobre cada uma dessas aplicações, o Prof. Valdenor procurou ressaltar algumas diferenças entre a versão da TND defendida por Leiter e a versão defendida por ele mesmo. Entre elas, podemos ressaltar como Valdenor (i) aceita a distinção analítico-sintético e a noção de verdades necessárias, (ii) não nega o valor do método de apelo a intuições de uma forma a priori, (iv) se aproxima mais da metafísica contemporânea do que Leiter, uma vez que sustenta que seu método não é exatamente a análise conceitual, que é rejeitada pela TND, mas sim a explicação teórica mediante critérios que permitem que escolhamos a melhor teoria mediante uma inferência à melhor explicação, o que também é feito nas ciências e, por fim, (v) vê um espaço relevante para teoria evolucionista dentro da ontologia social, de uma maneira geral, e para a TND, de maneira particular.
As três abordagens à teoria do direito discutidas, apesar de inconciliáveis em alguns aspectos, mostram como a pluralidade metodológica dentro do debate contemporâneo é importante para que tenhamos novos olhares sobre o direito e sobre sua própria teorização, seja o direito uma prática social institucionalizada ou uma prática essencialmente moralizada e marcada pela controvérsia. Dessas novas perspectivas surgem novas reflexões capazes de revelar muito mais sobre quem nós somos e sobre o que exatamente estamos fazendo quando escrevemos e discutimos sobre “o direito” do que apenas problematizar as nossas práticas sociais e nossos empreendimentos acadêmicos.
No último dia, os Professores Cláudio Michelon, Daniel Oitaven e Fabio Perin Shecaira conversaram conosco sobre Metodologia do raciocínio jurídico, tema do Painel IV. Em suas falas, eles buscaram responder quais as principais questões enfrentadas pelo teórico do raciocínio jurídico e também da argumentação jurídica, e em que sentido eles se diferenciam, se algum, de outros tipos de raciocínios e argumentações. Vale mencionar, desde já, que é possível diferenciar o raciocínio da argumentação jurídica, pois, conforme referiu o Professor Fabio Shecaira, a argumentação jurídica é pública/exteriorizada, enquanto o raciocínio é aquilo que se faz internamente, não deixando de ser, apenas por isso, objeto de estudo.
A primeira fala do painel ficou por conta do Professor Cláudio Michelon, que procurou expor alguns de seus interesses de pesquisa relacionados a formas canônicas da argumentação jurídica e sobre certos problemas da chamada “teoria standard”. Sobre as formas canônicas da argumentação jurídica, tais como inferências à melhor explicação e silogismos, o Professor Cláudio procurou pontuar como o desafio para o teórico da argumentação jurídica reside no fato de que esta tem algumas peculiaridades teoricamente relevantes, de modo que explicar a “analogia jurídica” ou o “silogismo jurídico” como simplesmente uma instância, dentro do direito, do argumento por analogia ou do silogismo, tais como explicados por uma teoria geral da argumentação, não é suficiente. Apesar disso, o Professor fez questão de ressaltar como grande parte da teoria geral da argumentação é perfeitamente aplicável à argumentação jurídica, mesmo porque argumentar juridicamente implica a habilidade de argumentar em geral -- por mais que estas peculiaridades não possam ser ignoradas.
Já quanto aos problemas da teoria standard da argumentação jurídica, o Professor Cláudio buscou ressaltar como ela, ainda que em grande parte correta, acaba por cometer um erro quando assume uma separação forte entre a descoberta de uma decisão (por meio de processos causais) e a justificação de uma decisão pelo direito por meio de um argumento. Uma das razões pelas quais isso poderia ser considerado um erro é porque as formas de percepção do caso concreto e do que é juridicamente relevante são elementos importantes para que se possa avaliar normativamente se alguém é um bom juiz, por exemplo. Neste sentido, o Professor Cláudio acredita que alguma forma da teoria aristotélica das virtudes da razão prática pareceria ajudar nesta investigação, uma vez que se está falando de virtudes ligadas à percepção do que é juridicamente relevante em um caso concreto. Para mais a este respeito, recomendamos a leitura dos materiais indicados pelo professor Cláudio Michelon, os quais se encontram disponibilizados ao final deste texto.
Em seguida, o Professor Daniel Oitaven procurou falar sobre como podemos olhar, sob uma perspectiva descritiva, para os diferentes modos nos quais sujeitos compreendem, raciocinam, argumentam e chegam a conclusões teóricas e práticas divergentes a respeito de casos controversos. Se inspirando abertamente em uma leitura desconstrutiva da obra de Aleksander Peczenik, o ponto central da fala do Professor Daniel foi a noção de “relativismo e desacordos metateóricos” dentro do raciocínio jurídico. Esta noção pode ser melhor explicada a partir da seguinte situação: quando um sujeito vai fazer um juízo sobre um problema jurídico com uma pretensão de racionalidade e coerência, ele normalmente faz um juízo sobre o problema e acredita que este é um juízo sobre uma convenção jurídica objetiva. O problema, contudo, é que alguém também pode pensar da mesma maneira e, apesar disso, chegar de um modo diferente ao mesmo resultado ou, inclusive, a um resultado diferente. Quando isto acontece, parece que temos uma situação onde aquele sujeito inicial reconhece que todo caminho argumentativo que ele tome talvez não seja tão objetivamente correto ou que, no mínimo, ela não é o único possível, como se seu argumento fosse determinado por aspectos subjetivos inevitáveis, ou até mesmo como se seu argumento devesse vir com uma cláusula de ressalva do tipo "(...) mas poderia ser diferente" ao final.
O professor Daniel procurou classificar estes desacordos metateóricos em três versões diferentes, de acordo com sua densidade: uma versão restrita, uma abrangente e outra ubíqua. Os desacordos metateóricos restritos são aqueles em que juízos proferidos por dois ou mais sujeitos vão resultar em duas conclusões diferentes; já a categoria dos desacordos metateóricos abrangentes abarca a versão restrita mas também inclui casos em que os sujeitos chegam a conclusões práticas equivalentes a partir de caminhos argumentativos diferentes; por fim, os desacordos metateóricos ubíquos consistem num tipo de desacordo mais profundo, abarcando as versões anteriores, mas dizendo respeito, principalmente, ao caminho de compreensão que faz com que um sujeito chegue à construção de um argumento e de uma conclusão prática em específico e não outra. A ideia por trás dessa categorização, para o Prof. Daniel, foi poder oferecer algum tipo de clarificação conceitual dos desacordos, a fim de nos possibilitar distinguir diferentes níveis de divergências jurídicas e compreender melhor estes fenômenos em casos jurídicos concretos.
Já o Professor Shecaira se preocupou em discutir brevemente sobre o objeto das teorias da argumentação jurídica, que pode querer saber como argumentam os juristas, de forma descritiva, ou, por outro lado, como tornar os argumentos dos juristas melhores, e aí podemos estar falando em retoricamente melhores, logicamente melhores ou politicamente melhores. Essa última proposta, ao menos à primeira vista, é muito mais ambiciosa, pois tem como objetivo oferecer maneiras de fazer com que um argumento (i.e., apresentar razões em defesa de uma conclusão) seja mais coerente de acordo com o ponto da argumentação. Isto porque, se meu fim é unicamente oferecer argumentos mais persuasivos, não procedo necessariamente da mesma forma que o faço se desejo oferecer argumentos menos falaciosos ou mais legítimos. Por essa razão, melhorar um argumento não parece significar sempre a mesma coisa e depende de certos fatores que condicionam e adequam nossas premissas e, consequentemente, nossa conclusão. Assim, fica bastante claro que essas melhorias dependem de abordagens específicas, as quais não necessariamente levam à mesma resposta. Saber onde nos situamos e que problema buscamos resolver é um pressuposto interessante para o sucesso de nossa abordagem.
Mais uma vez, é possível dizer que a pluralidade metodológica está longe de ser um problema para o teórico. Pelo contrário, é a partir do embate metodológico que podemos desenvolver e refinar nossas abordagens, tornando a pesquisa, se não mais relevante ou interessante, mais consciente de seus pressupostos, objetivos e eventuais comprometimentos teóricos. Não seria diferente no caso da teoria da argumentação jurídica, onde dar um passo para trás para discutir sobre o que exatamente queremos dizer com “tornar melhores” os argumentos dentro do direito, quais noções de racionalidade são pressupostas em nossas teorias, ou até mesmo qual seria o próprio escopo da teoria da argumentação jurídica, pode significar uma teorização mais clara e intelectualmente proveitosa de seu objeto.
Esse breve texto de divulgação do evento é apenas mais uma maneira para demonstrar que não cansamos de dizer que ficamos positivamente surpresos com o sucesso do evento. Não tínhamos a dimensão do público interessado em temas que, geralmente, são tratados como menos interessantes e que, talvez por isso, sejam tão evitados. Agradecemos imensamente a cada um dos painelistas, ouvintes, à equipe envolvida, colegas do grupo e demais pessoas que nos deram suporte para a realização do evento.
Antes de finalizar, aproveitamos para fazer um convite a todos aqueles que se interessaram pelo nosso I Seminário. No final de outubro e no início de novembro, ainda este ano, estarão abertas as inscrições para participar do grupo e, assim, ler e discutir conosco O Império do Direito, de Ronald Dworkin, e o Pós-Escrito de O Conceito de Direito, de HLA Hart, além de outros textos de teoria do direito contemporânea. Para fazer a inscrição, basta acessar o site do Sistema de Inscrições da Universidade Federal do Rio Grande (SINSC/FURG), a partir do dia 22 de outubro. Não é necessário ser aluno, tampouco se encontrar vinculado a qualquer Instituição de Ensino Superior: basta ser uma pessoa interessada em teoria do direito. Recomendamos, no entanto, que o participante faça a leitura de O Conceito de Direito, de HLA Hart.
Para ficar por dentro do que já realizamos e as expectativas para o novo semestre letivo, acesse nosso plano de estudos. Em breve, esperamos poder lançar a obra coletiva desenvolvida durante o ano de 2021. Compartilharemos o link para o novo processo de inscrição também pelas nossas redes. Se quiser participar desde já do nosso grupo no WhatsApp, solicite o link pelo e-mail (aequitasfurg@gmail.com) ou Instagram (@aequitasfurg). Acompanhe também pelo site.
Confira os materiais abaixo:
Painel I - Tomando Notas de Pesquisa
- Slides usados pela Prof.ª Andrea Faggion
- Slides usados pelo Prof. Horacio Neiva
- “Caixa de fichas”/Zettelkasten com aulas da Prof.ª Andrea, disponibilizado no Roam Research, como material de apoio:
- Vídeos da Prof.ª Andrea Faggion sobre a arte de tomar notas
- Recomendação de livro prof. Horacio Neiva sobre escrita acadêmica e criatividade: Roube como um artista - Austin Kleon
- Softwares de edição de texto mencionados no painel:
- Softwares de gerenciamento de referências mencionados no painel:
Painel II - Introdução à metodologia das ciências jurídicas
- Slides usados por William Galle Dietrich
- Slides usados por Rafael Giorgio Dalla Barba
- Recomendação de livro por William Galle Dietrich sobre metodologia das ciências jurídicas: Metodologia da Ciência do Direito - Karl Larenz (recomenda-se, em especial, a tradução portuguesa pela Fundação Calouste Gulbenkian: ISBN 972-31-0770-8)
Painel III - As metodologias da teoria do direito
- Slides usados pelo Prof. Guilherme de Almeida
- Slides usados pelo Prof. Valdenor Monteiro Brito Júnior
- Leitura recomendada pela professora Luciana como material de apoio: Luciana Silva Reis - Interpretando Dworkin: sobre o caráter político da teoria (e da prática) jurídica
Painel IV - Metodologia do Raciocínio Jurídico
- Slides usados pelo Prof. Fabio Shecaira
- Handout disponibilizado pelo Prof. Cláudio Michelon
- Leitura recomendada pelo Prof. Fabio Shecaira como material complementar: Fábio Perin Shecaira; Noel Struchiner - Peculiaridades da argumentação jurídica sobre fatos no campo do direito
- Leitura recomendada pelo Prof. Cláudio como material complementar: Cláudio Michelon - Legal Reasoning (Virtues)
- Leitura recomendada pelo Prof. Cláudio sobre as relações entre direito e teologia: Herbert McCabe- Law, Love and Language